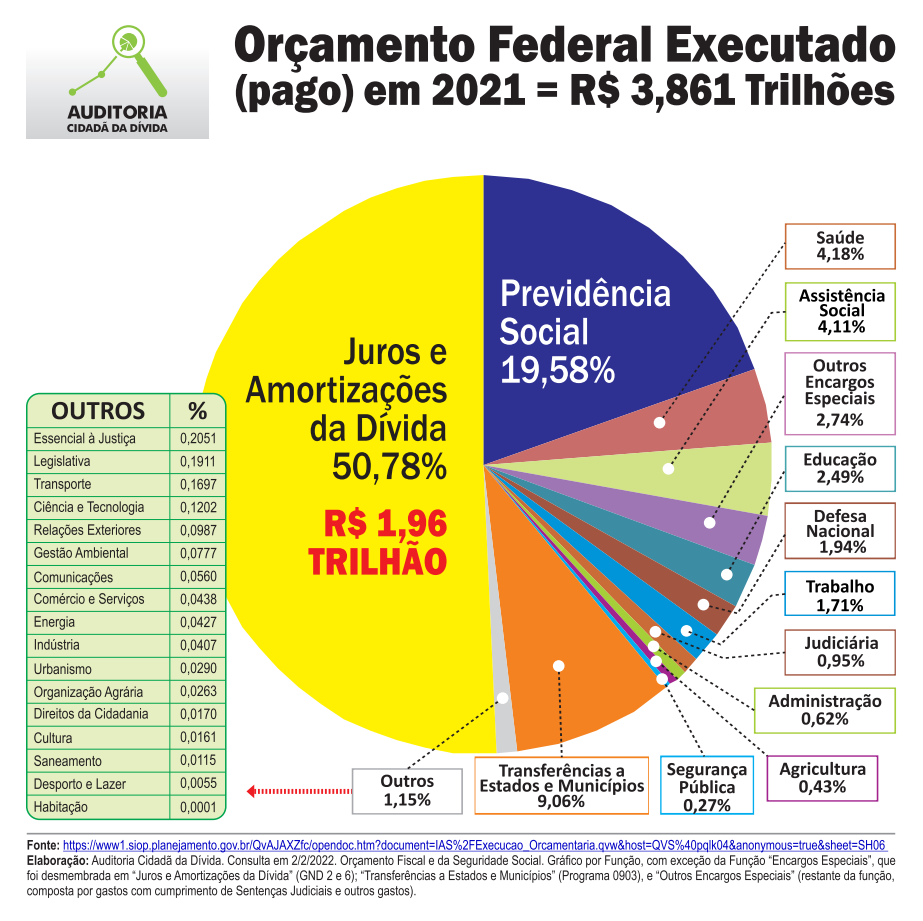O processo do MP para cassar a concessão da Jovem Pan por atentado à democracia, abre uma picada que pode dar na responsabilização dos grandes grupos de comunicação pela adesão e apoio incondicional à Operação Lava-Jato, cujos desmandos começam a ser desvelados.
“Esse é um capítulo que ainda não foi aberto, mas não há como fugir dele”, sentenciou Gilmar Mendes em entrevista recente à Record. A entrevista foi encerrada quando ele tocou no assunto.
Como a Rede Globo vai justificar centenas de manchetes no Jornal Nacional, ilustradas por um duto que jorrava dólares, baseadas em vazamentos ilegais de delações premiadas que, agora se esclarece, eram obtidas sob tortura psicológica?
O jornalista tem a prerrogativa de preservar a fonte para revelar informações de interesse público. Mas dois anos de manchetes baseadas em vazamentos ilegais?
O caso de Antônio Palocci é exemplar. Foi mantido na prisão até fazer uma delação como queriam os procuradores, com acusações sem provas (que ele agora desmente), e divulgada na reta final de eleição de 2018.
Os grandes grupos de mídia – Globo, Estadão, Folha de São Paulo, com todos seus afiliados e apadrinhados – tem muitos esqueletos no armário.
Para ficar nos últimos 70 anos: a campanha que levou Vagas ao suicídio, a tentativa de impedir Jango em 1961, o apoio irrestrito aos militares em 1964, a farsa de Fernando Collor, “o caçador de marajás” em 1989, o “fenômeno Bolsonaro” em 2018…
Em todos esses episódios sombrios para a democracia encontra-se as nítidas digitais da chamada “grande mídia”.
Em nenhum deles, no entanto, o engajamento foi tão entusiasta e declarado quanto na Operação Lava-Jato.
Passada à limpo, a Lava Jato revela-se uma armação. Estou ansioso para ler o editorial do Globo justificando seu apoio incondicional à República de Curitiba;